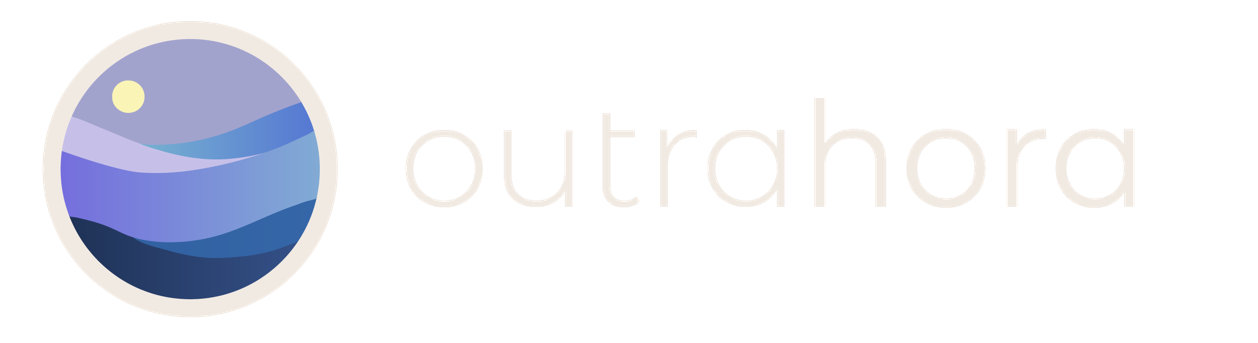Crítica | Stranger in the Alps - Phoebe Bridgers
Esse álbum não é sobre a cantora e compositora phoebe bridgers.
6 anos atrás, uma artista até então pouco conhecida lançava seu debut, o disco “Stranger in the Alps”. Apesar de jamais ter sido um sucesso comercial mainstream, podemos classificar esse disco como um “sleeper hit”: um lançamento que, ao longo do tempo, vai ganhando notoriedade, se espalhando e ganhando vida própria.
Phoebe era uma estranha. E de certa forma, ainda é, e essa própria auto-consciência da estranheza de sua condição, seus sentimentos e experiências, que a tornaram alguém tão fácil de se relacionar, desde o início.
Em sua crítica de Punisher, meu amigo e colega Pietro relembra que: “Phoebe gravou todos os vocais de "‘Stranger in the Alps’ totalmente no escuro por acreditar que, dessa maneira, estava cantando para ela mesma e mais ninguém, trazendo mais veracidade para seus versos. Deu certo. O mundo então estava introduzido ao potencial da cantora que consegue botar em palavras as vezes sentimentos que nos escapam.” Eu cito, pois não poderia colocar em palavras melhores.
“You gave me fifteen hundred to see your hypnotherapist
I only went one time, you let it slide
Fell on hard times a year ago
Was hoping you would let it go and you did”
Stranger in the Alps é um álbum, sem sombra de dúvidas, mas a sensação que evoca no ouvinte é de um diário. Ao ouvir esse disco, que se tornou um dos meus refúgios favoritos em meus momentos de introspecção, me sinto lendo o diário de alguém que eu já fui, ou ainda serei.
Se você já teve um diário, talvez concorde comigo: geralmente escrevemos de duas formas, ou de forma rotineira, habitual, ou somente nos momentos mais intensos, ou mais difíceis. Se esse disco é um diário, com certeza é o segundo tipo.
A essa altura do campeonato, pontuar destaques do álbum parece um tanto quanto redundante. Todo mundo já sabe que “Motion Sickness” é o melhor hit do indie-rock recente, e provavelmente, o melhor dos anos 2010. Todo mundo já sabe que “Smoke Signals” é uma abertura soturna e conceitual ambígua, reconfortante e ácida concomitantemente, que “Scott Street” tem uma das progressões mais doces e sentimentais da carreira de Phoebe, e uma produção exímia, de ponta a ponta.
O legado desse álbum fala por conta própria. “Stranger in the Alps” catapultou Phoebe da cena indie, para a oportunidade de produzir “Punisher”, um dos álbuns mais aclamados de 2020 que, por sua vez, catapultou novamente a artista à doce linha tênue entre o mainstream e o indie: a liberdade de andar na rua sem ser uma Kardashian, e ao mesmo tempo, ser feat. em álbuns da alçada de SZA e Taylor Swift.
“Jesus Christ, I’m so blue all the time
And that’s just how I feel
I always have, and I always will
Always have, and always will”
Nesse primeiro trabalho estão mais claras as influências de artistas dos anos 90 e 00 como Conan Oberst, Jeff Buckley e Phil Elverum. Ao mesmo tempo que traz semelhanças com tais artistas no estilo de composição, Phoebe executa tudo de forma tão autoral, que parece que está reinventando o gênero a cada faixa.
Talvez “Funeral” seja a peça mais central do álbum. O refrão dessa música tem inegavelmente emo, mas a entrega vocal de Phoebe é tão sincera, tão doída, que se esvai o espaço que existia no emo dos anos 2000 para qualquer caricatura, exagero ou expressionismo: aqui, é apenas sentimento. Luto, ansiedade, receio. Temas que nunca estiveram ausentes da música, indie ou mainstream, mas que talvez nunca estivessem sendo tão demandados quanto atualmente.
Apesar de não ser formalmente uma jovem da geração Z, esse é sem dúvida o público principal de Phoebe. Um público cuja saúde emocional e social é revirada múltiplas vezes por ano desde que nasceu, e que muitas vezes carece de comunidades, conexões, e ídolos mais palpáveis, tangíveis, reais.
Sempre haverá espaço para os mitos musicais. Mas, não a toa, faz tempo que não assistimos a ascensão de um novo mito, aos moldes de Beyoncé, Rihanna, Madonna. Obviamente, existe um contexto da indústria que explica isso… mas seria ingenuidade não reconhecer que também há uma mudança no que o público busca nos artistas.