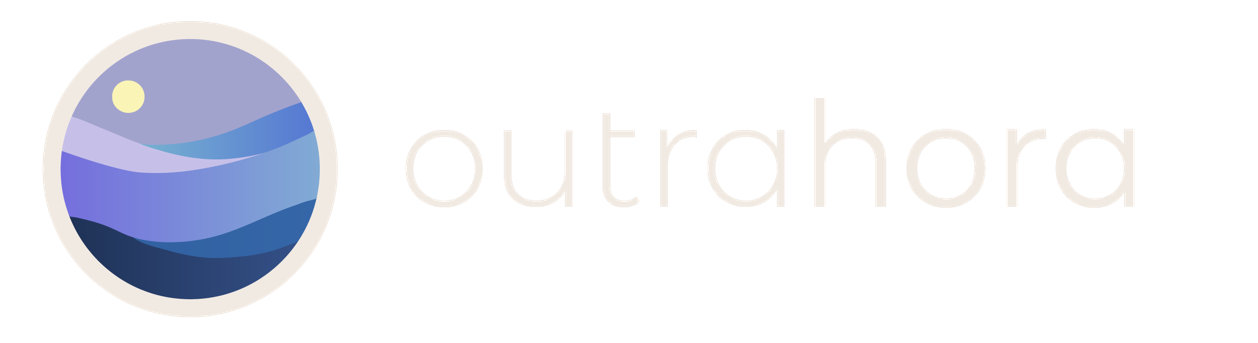Crítica | Monkey Man
Homem, um Animal Político
Arte Sem Política é Enfeite da Moral
Negue o quanto quiser, mas é impossível não reconhecer que Monkey Man (2024), dirigido e estrelado por Dev Patel, é um filme com um forte senso político e espiritual. E, pessoalmente, creio que há uma certa dose de ironia no fato de eu o ter visto na mesma semana em que viralizou a declaração infeliz e polêmica do Christopher Nolan no trecho do livro "The Nolan Variations” sobre a ausência de uma visão política em seus filmes, e vou aproveitar a oportunidade para compartilhar minha opinião. Primeiro o trecho em questão:
“Tive conversas com amigos meus e todos perguntaram por que não faço um filme sobre as coisas que me interessam politicamente, e eu sempre digo: 'Bem, porque não funciona.' Não use a narrativa para dizer às pessoas o que pensar. Isso nunca funciona. As pessoas simplesmente reagem contra isso. Você tem que ser mais puro sobre isso. Você tem que ser mais fiel aos princípios da narrativa e de contar uma história, e isso significa correr o risco de má interpretação. Isso não significa que você não se importa com algo, ou que isso não significa nada para você, mas você deve ser neutro ou objetivo em sua abordagem. Você não pode dizer às pessoas o que pensar, só pode convidá-las a sentir algo. Sempre penso no grande momento de Gladiador, onde ele corta a cabeça e depois se vira para o público e pergunta: ‘Vocês não estão entretidos?’ Seja o que for, vocês têm que entreter.”
Ouvir uma afirmação de que um filme político “não funcionaria”, vindo diretamente de um diretor que fez a melhor campanha de sua carreira ano passado conquistando várias premiações com um filme biográfico sobre a criação da bomba atômica é, no mínimo, absurda, mas se Hollywood privilegia cada vez mais uma mentalidade ascética para agradar gregos e troianos dentro da sala de cinema, é porque tem uma resposta comercial por parte do público.
Primeiramente, como tudo que envolve Nolan, há uma arrogância intelectual nessa afirmação ao querer usar o universo de possibilidades de interpretação como um escudo de justificativa para não tomar partido e ser “mal compreendido”. Toda manifestação artística é, em sua essência, fruto da intimidade do artista e atrelada ao seu tempo, logo é impossível escapar de um reflexo histórico - portanto, político. Dos pintores mais realistas aos mais abstratos, da música mais erudita ao jazz mais caótico, das odisseias cantadas à ficção jornalística, toda expressão carrega consigo uma temporalidade específica que a define quanto idéia, citando George Orwell: “Ninguém está verdadeiramente isento de tendências políticas. A opinião de que arte não deveria ter a ver com política é, em si, uma atitude política.” Negar esse caráter não vai ao encontro de um paraíso idílico de neutralidade, não transporta o espectador e o artista ao éden da liberdade de expressão, na verdade, apenas o coloca num limbo de covardia que foge da responsabilidade de criação: ao criar uma narrativa inserida em um tempo histórico, com relações sociais entre os personagens e o espaço habitados, ao ter representação de cultura, hábito, mentalidade e ação, haverá uma escolha política.
Essa falsa ilusão da “não escolha”, ou seja, a neutralidade de temas, é o que sustenta a arte como mero acessório de entretenimento e a rejeita como um poder de síntese sobre a realidade. Não quero dizer que uma obra de arte tem a obrigação de ter uma temática política e que um filme como forma de diversão é inválido, até porque existem outras formas de olhar para o filme além deste caráter, podemos analisar assuntos mais universais, tragédias mais pessoais, até refletir sobre a forma do cinema e seus signos e gêneros. O problema é que acabamos por não realizar nenhuma das opções e os espaços para esse tipo de diálogo são cada vez menos acessados pelo público.
Mas atenção! Quando me refiro ao “caráter político” não quero me referir a uma panfletagem cafona e ideológica, se não retornamos à insuportável autoafirmação de um moralismo. Caráter político é dar à obra a relação íntima e passional da qual ela merece, explorar seu conteúdo histórico, social ou biográfico não só esboçando reconstituições, mas submergindo em toda a complexidade emocional envolvida, seja seu viés - que a política seja sua tinta e a estética seu pincel. Não tomar um partido é abdicar de transmitir algo ao espectador e esperar que ele próprio crie, é o impedir experienciar uma complexidade de sentimentos em prol de uma racionalização que logicamente irá concluir algo sobre o que é apresentado.
Somos capazes de vibrar de emoção quando a estrela da morte é destruída pelos rebeldes, quando Pandora é defendida com armas e montaria primitivas contra a alta tecnologia militar, ou quando o líder dos bruxos das trevas supremacistas é pulverizado pelos jovens heróis, nos abstemos e calamos com os massacres sistemáticos causados por grandes nações, com a mercantilização da miséria, com a exploração cotidiana, com a corrupção, pobreza e ódio. Tudo em prol de quê? De ser neutro e objetivo, moderado e passivo, ser “convidado” para algo do qual podemos recusar o convite. Um filme se torna um mero produto industrial que só é consumido quando temos apetite e, quando terminamos, o descartamos para ser reciclado: estamos há anos deglutindo os mesmos temas e histórias porque, no fundo, a neutralidade da paciência à urgência, transforma em fábula o legítimo e torna o desagradável, gostoso a todos.
A sequência de Duna é, a meu ver, o exemplo mais recente de como Hollywood é cética e apolítica: um filme que se relaciona com sua mitologia própria de maneira completamente vazia e humorística, que pega emprestado das crenças existentes apenas para torná-las aspectos visuais e de caracterização, sem nunca as compreender inteiramente. Nossos personagens são guerrilheiros do deserto lutando contra déspotas imperialistas de linhagem nobre viciados na extração de especiarias, e mesmo assim o filme flutua em um vazio de escolhas que parecem sempre fugir dessa realidade interna e assumir um caráter revolucionário.
É irritante que, com acesso à informação e uma rede de diferentes opiniões disponível na internet, se perpetua uma das mentalidades mais reducionistas da história do cinema: ou tudo que envolve um viés crítico é considerado “lacração” e deturpa a essência de uma obra, ou o conteúdo mais polêmico é rejeitado por uma afirmação de sua própria moralidade e dos “gatilhos” que ela possa ocasionar. Essa mentalidade rasa é incapaz de lidar com o contraditório e não consegue ultrapassar uma superfície da aceitação, na verdade, revelando de ambos os lados um protecionismo reacionário que coloca o espectador sempre em uma posição de segurança: ele está certo e defende o que é certo.
Não discutir essas temáticas dentro da ficção terá um efeito a longo prazo desastroso de perpetuação das mesmas, já que repudiar de fato o conteúdo não é o mais importante, e sim, de maneira egocêntrica e narcisista, exibirmos a nossa própria discordância com os demais, nos colocando em um pedestal de iluminação como verdadeiros paladinos da moral. Citando o teórico da psicologia Carl Jung, “tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos". Pessoalmente, acredito que esse é o caminho para estabelecer uma relação sincera com uma obra de arte deste tipo, olhando não apenas como um meio de construção técnica e teórica, mas como uma experiência viva de autoconhecimento. Durante sua existência, devemos nos despir completamente e sentir cada textura grotesca, imoral, raivosa, feiosa e desonesta, como também cada desejo sedutor, ação duvidosa e pensamento sombrio, por mais desconfortável e eterno que pareçam ser, por mais incrustado a nós que estes elementos pareçam estar (pois na realidade, em graus diferentes, estão).
E no final, sim, podemos repudiá-las sem remorso, fechando o livro e devolvendo-o à estante, acendendo as luzes enquanto vemos os créditos do filme, piscando os olhos ao virar as costas para a pintura, baixando o som da música, saindo pela porta do teatro. O que não faltam são autores nos mais diversos formatos que nos coloquem em um ponto de vista diferente da nossa moralidade e visão de mundo e que, na limitação da ficção, nos permitem experienciar outras vivências. Cabe a nós não os podar e dar uma chance de odiar a nós mesmos.
Fúria Política e a negação do Herói Hollywoodiano
Como citei anteriormente, atribuir a um filme um caráter político não é apenas identificar uma complexidade temática em seu texto que acabaria por estruturar uma tese hipercomplexa e metafórica, aliás se olharmos Monkey Man por esse aspecto, apenas iremos de encontro com uma análise bem rasa do estado da sociedade indiana afetada pela miséria, desigualdade social e corrupção das instituições.
A qualidade desse filme está na escolha da mise-en-scène de não tornar a história um misto universal, uma analogia da realidade quanto instrumento de análise objetiva, e sim propor um recorte extremamente individual, acrítico e afetado emocionalmente onde as questões sócio-políticas se tornam periféricas ao centro da história. O protagonista nega o papel apelativo do herói hollywoodiano e, se ao longo da narrativa personifica um defensor de classe ao incorporar o deus-macaco do hinduísmo Hanuman, símbolo de altruísmo e justiça, é, na verdade, mais uma percepção externa dos demais personagens que o enxergam como o salvador do que necessariamente uma crença individual.
Sua mentalidade e sua atitude parte sempre de uma premissa própria, seu desejo por vingança pessoal, sem estabelecer nenhum laço verdadeiramente duradouro: seu interesse romântico nunca passa de uma relação de olhares, ele abandona seu amigo escudeiro cômico sem nenhuma empatia e sua relação com seu mestre é encerrada quando se recupera dos ferimentos. A estrutura da história também impede a criação de um laço com o espectador, ao invés de expor o trauma do passado no início seguindo uma linearidade que concluiria em uma reação empática mais direta, tudo é picotado em flashbacks confusos que só são entendidos em sua completude no decorrer do filme, justamente para não reduzir nosso protagonista a uma figura heroica e idealizada. A cena que melhor sintetiza essa oposição ao heroísmo é um detalhe gestual que antecede o final do filme. Antes de entrar no edifício, a máscara do macaco, usada nas lutas clandestinas e escolhida pela sua fascinação ao Deus na infância, é jogada fora, negando em um instinto anticlimático toda a mística em torno do objeto. Outra visão poderia facilmente tentar comercializar essa imagem, mas Dev Patel não quer ser símbolo, não quer ser exemplo e não quer deixar um legado, ela a dispensa e vai à luta com seu próprio rosto, pois a história desse filme não pertence a um coletivo, mas a apenas um homem - e é por revelar sua face real que mostra toda dor que carrega em seu rosto, a mesma dor que sua mãe sentiu ao morrer, e a mesma dor que todos os povos que já foram dominados sentiram na pele.
A temática política não está necessariamente no conteúdo da história, mas justamente em uma manifestação pura e instintiva da reação que ele tem. Nossa visão é a visão de Kid (Dev Patel) completamente cegada pela fúria e pela cólera, jogados nas sarjetas obscuras e asfixiantes de Mumbai enquanto imaginamos estar presentes naquele mundo econômico superior e nos vingarmos daqueles que o acessam por meios desumanos, e de tanto observar distantes na escuridão maturados em uma fúria política, concluímos a temática do filme sem uma única verbalização. Ao misturar imagens reais da repressão policial para criticar a instrumentalização da religião como forma de poder, coroa a construção de sua forma, despertando na audiência aquilo que nos conecta com o filme: a raiva que gerará mudança. Sem apaziguamento, sem contenção, sem dar um passo para trás e pensar duas vezes, Monkey Man é explosivo e furioso em sua ação e reação.
Monkey Man entrega um recorte extremamente individual, acrítico e emocional em que as questões sócio-políticas são periféricas à narrativa.
Simbiose Antropomórfica da Ação
Em termos formais, o filme é uma mescla da franquia John Wick apadrinhada por influências de Michael Bay e Tony Scott com lapsos de Terrence Malick durante os momentos de flashbacks, mas querer dizer que o filme nada mais é que um brainstorming de boas referências (que aqui não faltam, de Apocalypse Now a Raging Bull) é ser muito injusto. A matriz principal de comparação, os filmes do John Wick, convergem em um só sentido: uma narrativa centrada em personagens de terno em busca de vingança, pois existem diferenças fundamentais enquanto forma e conteúdo.
Sociologicamente falando, John Wick é um produto refinado criado por um submundo do crime que se volta contra ele, já nosso protagonista nunca pertenceu ao lado inimigo e sempre esteve marginalizado economicamente. Enquanto um se apropria daqueles espaços minimalistas e luxuosos com estilo, afinal isto era comum outrora, junto ao outro nunca nos sentimentos completamente pertencentes a estes ambientes, uma vez que nossa única chance de acessar estes locais é se submeter a uma função de trabalho. Em uma cena específica, Kid e Alphonso (Pitobash) andam com o tuk-tuk à noite enquanto dialogam sobre algumas questões políticas e durante a conversa, podemos perceber o contraste de realidades: os pedestres iluminados com fogo não enxergam o veículo com suas luzes de LEDs, aquela realidade é quase inexistente de tão inacessível. Existe tanto uma distância física entre essas realidades, como o quão longevo é o centro cosmopolita da cidade dos bairros periféricos, quanto uma distância menos literal presente na dinâmica dos personagens, que sempre acessam essa redoma da ação sem nunca usufruir dela como os outros demais ali inseridos.
John Wick é, em sua forma e conteúdo, um filme antropocêntrico, interessado no materialismo que serve à humanidade: as arquiteturas high-tech, os trajes finos, carros potentes e armas tecnológicas. É um filme suburbano até quando escapa da civilização, pois o valor do homem está sempre em primeiro plano, os cenários históricos ou paisagens exóticas são apenas palcos absorvidos e tomados pela ação do homem e, alguns casos, reescritos pela modernidade (por exemplo, a famosa cena da festa nas ruínas do coliseu no segundo filme). O filme floresce da apatia e da ausência niilista de significado exterior ou interior ao esvaziar a tragédia pessoal do primeiro filme que perde seu sentido ao longo da franquia, combatendo a organização poderosa mais como necessidade e consequência de seus atos do que uma vontade de espírito. Em suma, ele não crê em nada a não ser seus próprios ídolos, signos, mitos e pactos existentes exclusivos do próprio código daquele universo.
Já Monkey Man é antropomórfico em muitos nomes: o macaco, o leão, o pássaro, a cobra e o urso, mas essencialmente por rejeitar tais elementos modernos e abraçar o lado essencial presente na transcendência da relação espiritual com o hinduísmo. Desde os primeiros minutos sentimos uma forte conexão entre essa religiosidade com sua representação natural e exterior, e o homem no centro disso tem o papel de se reconectar com a espiritualidade para concluir seus objetivos, não impor sua própria visão. Nosso protagonista inicialmente tenta concretizar sua vingança pelo caminho do homem: acorrentado ao espaço urbano, arquiteta seu plano por meio de formas e objetos humanos (a arma comprada, a fuga improvisada no veículo, o produto químico colocado na cocaína) que até o levam ao momento de oportunidade, mas falham pois só podem ser acionados pelo corpo. Depois que é atacado e se recupera no templo, passa por um ritual onírico que o faz compreender o limite imposto - tanto seu travamento psicológico quando assumir seu propósito de sacrifício -, e assim vai finalizar sua missão: não com mecanismos exteriores, mas com sua própria musculatura e membros, punhos e dentes, raiva de espírito não frustração racional, usando as armas do inimigo contra eles.
Em uma cena no templo, nosso protagonista reaprende a lutar através da música como se aquela melodia expressa nas batidas conjurasse os poderes de antigos guerreiros, absorvendo todo o conhecimento da harmonia estabelecida entre as vibrações da vida, uma cena realmente linda que diz muito sobre a natureza da ação do cinema: uma verdadeira dança que requer perfeição nos mínimos detalhes e gestos.
Dev Patel enquanto diretor compreende a ação não somente como um recurso de atração superficial que prende a atenção do espectador pela intensidade física, mas também pelo potencial dramático e expressivo que possa o acompanhar, distribuindo de maneira equilibrada essas cenas que funcionam coerentes a narrativa e ao desenvolvimento do personagem, culminando em seu ápice na resolução do filme. O ritmo frenético da montagem e da coreografia remetem muito a John Wick 4 (2023) quando intencionalmente assume esse lado interativo de uma gameplay, utilizando certas quebras maneiristas como a simulação de uma câmera subjetiva ou o snorricam shot, e quando vai interagindo espacialmente com os ambientes que sempre vão organicamente propondo novos elementos de interação, em uma progressão contínua em espaços definidos como verdadeiras fases de um jogo, como vemos na mudança de adversários no ringue ou na escalada até o último andar com o “chefão final”.
É interessante como ele utiliza um padrão de qualidade neo-noir típico de um blockbuster, mas o expõe em uma cadência bem menos límpida e degustável, em alguns momentos é como se enxergássemos a ação entre uma fresta no piso: a aproximação e a profundidade de campo fecha de maneira claustrofóbica nossa visão, criando uma sensação sombria e poluída que só se encerra quando alcança finalmente aqueles espaços economicamente superiores e sua estética iluminada.
Monkey Man dá a ação a interatividade de uma gameplay sem desgastá-la de forma gratuita, alinhando a expressividade dos elementos do gênero com o arco do personagem.
Monkey Man dá uma oxigenada no panorama atual do gênero, explorando com uma forma concisa e energética outras camadas temáticas sem cair nos típicos conceitos desgastados nem em vícios verborrágicos para adentrar em uma complexidade universo espiritual e construir sua visão crítica da sociedade, permitindo seu personagens e seu filme a terem uma intensidade necessária e condizente com o mundo cruel estabelecido que não se esconde atrás de um moralismo comedido e abraça toda a violência gráfica e poluição visual. A estreia de Dev Patel na direção foi certeira e o resultado é um filme consciente de si e de suas decisões, se apropriando de visuais e características do gênero de maneira crítica e adaptando-o, de certa maneira, para a realidade de Mumbai. É um filme que expõe sua visão cultural sem medo de se posicionar, gerando um rompimento interessante do típico “filme de ação estadunidense”.
Se um homem deseja desafiar os deuses, ele deve se tornar mais do que um homem. Ele deve se tornar uma fera.